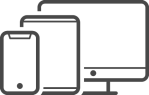O yuan será o novo dólar?
A expansão da moeda chinesa no comércio internacional e da dívida dos países com a China desafiam o FMI pela primeira vez desde o fim da 2ª Guerra. Entenda.

Crise econômica na Argentina é como Natal: tem todo ano. E não é bem um exagero. O Clube de Paris, uma organização de países credores de outras nações e que existe apenas para renegociar dívida de quem está em dificuldades financeiras, surgiu por causa do nosso vizinho. A capital francesa foi a sede de uma reunião da Argentina com os seus credores em 1956, dando origem ao clube.
Ao longo da história, foram nove calotes na dívida externa. Entre mais prazo para pagar dívidas e vários resgates do FMI, a Argentina foi seguindo aos trancos e barrancos.
Só que, em 2023, esse arranjo colapsou (de novo). O país teve uma quebra de 40% na safra de soja e a menor produção em 20 anos, consequência de uma seca severa causada pelo terceiro ano consecutivo de La Niña. Isso aconteceu justamente quando investidores começaram a bater em retirada dos países mais arriscados rumo aos títulos públicos dos Estados Unidos, já que os juros estavam subindo para o controle da inflação. O banco central argentino precisava, então, entregar os já escassos dólares para essa turma. E o peso argentino desvalorizou 57% em um ano.
Ao fim de junho, economistas estimavam que a Argentina simplesmente não tinha mais dólares no cofre. Estava sem reservas. Como comparação, o Brasil tem um estoque de US$ 300 bilhões. O caso argentino paralisa quase completamente as relações comerciais com outros países.
O caminho convencional é bater à porta do FMI e do Clube de Paris, de novo, pedindo socorro. E o país está fazendo isso. Desta vez, porém, os hermanos receberam antes um salva-vidas de um lugar diferente: a China. E subitamente o mundo desenvolvido passou a temer o renovado poder de influência do dragão sobre os demais países.
Passo a passo
O projeto de abertura da China para o mundo começou há décadas. Primeiro, com as exportações de produtos. Depois, as empresas passaram a se internacionalizar. O passo seguinte, a partir de 2013, foi a chamada Nova Rota da Seda (em inglês, Belt and Road Initiative), em que a China financiava e construía infraestrutura em países pobres ou em desenvolvimento – e que de outra forma, não teriam recursos para erguer portos, aeroportos, estradas e redes de telefonia. O último elo, agora, é a expansão do uso da moeda chinesa no mercado internacional.
É aqui que entra o caso da Argentina. O banco central vizinho fechou uma espécie de linha de crédito de 130 bilhões de yuans (US$ 17 bi) com o Banco do Povo da China, o BC deles. São contratos de swap cambial, uma espécie de acordo de troca de moeda. O instrumento eleva as reservas cambiais do país, tudo que a Argentina precisa.
Esses yuans servem, na prática, para que importadores possam pagar suas compras feitas na China com eles. Funciona porque, pelo acordo, os exportadores argentinos também recebem por suas vendas na moeda de Xi Jinping. O dólar sai da jogada, ao menos nas relações bilaterais, o que dá algum respiro ao país.
O Brasil pensa em fazer algo parecido com a Argentina, e é isso que está por trás da tal “moeda comum” em discussão (e não a criação de um euro latino). É algo razoável de se pensar, já que o país de Messi é nosso terceiro parceiro comercial mais importante, atrás apenas de Estados Unidos e China. Se eles não puderem comprar nossos produtos por falta de dólares, e migrarem sua demanda para a Ásia, aí a nossa economia é afetada também.
Não são apenas os hermanos que estão pagando pelas importações em yuan, em vez de dólar. Hoje, a China já faz mais transações de comércio internacional com a própria moeda do que com a americana, segundo dados da Bloomberg.

A chave virou após a guerra na Ucrânia. Quando a Rússia decidiu invadir o país vizinho, a reação do Ocidente foi bloquear o acesso de Vladimir Putin às reservas internacionais do próprio país (cuja maior parte está em títulos públicos europeus, japoneses e americanos). Uma sanção bastante agressiva mesmo considerando que os russos já haviam reduzido a exposição que tinham à dívida americana.
Outras nações menos próximas do governo americano se tornaram mais cautelosas com a dependência que têm dos Estados Unidos. Temem que qualquer passo em falso ante o interesse ianque pode significar a perda de acesso aos próprios recursos.
“É um grau de intervencionismo extremo. Os países pensam: se fizeram isso com a Rússia, por que não podem fazer isso comigo?”, explica Celio Hiratuka, professor da Unicamp coordenador do grupo Brasil-China da universidade.

A demanda por ouro como reserva de valor dos BCs, mundo afora, cresceu 18%. E a expansão do comércio com o yuan ganhou mais espaço, principalmente via Rússia, ainda que esteja longe de representar uma ameaça à soberania do dólar.
Acontece o seguinte: essa linha de swap cambial não é uma invenção chinesa. O Fed também tem acordos do tipo com outros bancos centrais. A China começou a firmar seus convênios lá na crise de 2008, e os países topavam porque a crise financeira havia secado recursos – tratava-se de um seguro extra. Ao menos 40 países têm acordos de swap cambial com a China. O Brasil está entre eles.
Esses recursos raramente foram utilizados. Mas isso está mudando. Um estudo do laboratório de pesquisas AidData mapeou como a China se converteu num credor de último recurso para economias em desenvolvimento. Os países só recorrem a essa linha de crédito quando entram em crise. Ao longo dessas quase duas décadas, a China desembolsou o equivalente a US$ 240 bilhões em yuans a 20 países – o grosso disso, US$ 185 bilhões, entre 2016 e 2021. Os pesquisadores evitam uma comparação direta com os resgates oferecidos pelo FMI, pela diferença de instrumentos utilizados. Ainda assim, eles apontam que o volume emprestado pela China equivale a 10% dos financiamentos feitos via FMI. Esses números são de antes da guerra da Ucrânia. A tendência agora é que eles cresçam.
O cenário internacional dos últimos anos trouxe outro um desdobramento: uma crise brutal de dívida nos países mais pobres.
Após 2008, o mundo viveu mais de uma década sob um regime de juros negativos nos países ricos. E investidores decidiram se aventurar por regiões antes negligenciadas em busca de retornos maiores.
Wall Street aumentou seu fluxo financeiro para a África, por exemplo, via financiamento de dívida pública em dólar. E o juro baixo do período reduzia o risco da operação. Quanto menor o juro, afinal, menor a ameaça de calote.
O Banco Mundial estimou que países de renda baixa e média tinham 61% de sua dívida pública nas mãos de credores privados ao fim de 2021, um aumento de 15 pontos percentuais em relação a 2010.
O mesmo vale para o movimento da China com obras de infraestrutura. Após décadas exportando para o mundo, o país tinha acumulado US$ 3,38 trilhões em reservas – e o grosso desse dinheiro ficava em títulos da dívida americana, a juros reais negativos. Financiar países que necessitavam de infraestrutura era um jeito de, ao mesmo tempo, ampliar sua influência global e rentabilizar o dinheiro.
Só que a dívida desses países cresceu ao longo da década de 2010. A Covid agravou o rombo, porque era preciso financiar medidas de alívio aos efeitos da pandemia. Quando isso ficou para trás, inflação e aumento de juros nos países ricos tornaram os empréstimos caros demais.
O conflito fez disparar os preços de commodities como petróleo e alimentos, afetando a capacidade desses países de pagarem pelos produtos essenciais – importados – após anos de gastos turbinados pela pandemia. Além disso, a inflação global fez bancos centrais elevarem juros no mundo todo, o que aumenta o custo das dívidas. A coisa vira uma espiral negativa, que não é inédita. Nos anos 1970 e 1980, uma série de países, incluindo o Brasil, tiveram problemas no pagamento de suas dívidas por causa de uma mudança de conjuntura no mercado internacional.
Só que, pela primeira vez na história, essa dívida era muito mais pulverizada – e a China também era um credor importante.
Estimativas do Banco Mundial apontam que, dos US$ 35 bilhões que 74 países de renda baixa pagariam em dívidas em 2022, US$ 13,1 bilhões iriam para instituições chinesas. Montante semelhante era devido ao setor privado, caso de fundos que passaram a comprar títulos de dívida desses países.
Subitamente, FMI e Clube de Paris não tinham mais o poder de estabelecer, sozinhos, as regras de negociação de dívida dos países em crise. Uma novidade no arranjo econômico global.

Poder
Essa história começa em 1944,o ano do acordo de Bretton Woods. Estamos no pós-guerra, e os Estados Unidos, grande vitorioso do conflito, começam a desenhar a nova estrutura do sistema financeiro mundial. O ponto de partida era o fim do “padrão-ouro”. As moedas dos demais países não teriam mais lastro no metal. Seriam atreladas ao dólar. Já a moeda americana, sim, continuaria fixada ao ouro. Os países teriam câmbio fixo e as moedas poderiam ser livremente convertidas entre si, tendo o dólar como referência.
Para funcionar, claro, os países precisavam ter dólares. E isso se obtém exportando. A lógica toda era calcada em uma economia completamente liberalizada, com o mínimo de barreiras tarifárias e livre mobilidade de dinheiro. Nesse arranjo, o FMI foi criado para tentar garantir que os signatários do acordo tivessem a estabilidade econômica necessária para participar desse jogo. O papel do Fundo Monetário Internacional é socorrer países com escassez de dólares, emprestando dinheiro para reservas internacionais – o que, no limite, assegura o pagamento da dívida externa em tempos de vacas magras.
O embrião do Banco Mundial também surge ali, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos países, financiando obras de infraestrutura, por exemplo. A ideia é que os projetos ajudariam no crescimento dessas nações, elevando sua capacidade de competição no mercado internacional.
Esse é o período da guerra fria, quando Estados Unidos e União Soviética polarizavam o mundo entre capitalismo e socialismo, democracia liberal e regimes autoritários ou ainda Ocidente e Oriente.
Outra característica marcante da época é que o continente africano ainda era formado em sua vasta maioria por colônias de países europeus, e o processo de independência só começou nos anos 1960. O interesse dos Estados Unidos por lá sempre foi limitado, o que significa que pouco dinheiro do FMI e do Banco Mundial escoou para a região.
O lance é que, com um rival poderoso à época, os Estados Unidos não podiam deixar de lado países em dificuldades. Durante a guerra fria, abandonar um aliado significaria, ao mesmo tempo, uma admissão de falha do capitalismo e um incentivo para que governos se inclinassem para o regime soviético.
Então o dinheiro dos EUA e dos demais países desenvolvidos fluía via FMI e Banco Mundial, mas com condicionalidades: o país receptor precisava conduzir reformas econômicas, como redução de gastos públicos, privatização de empresas estatais e retirada de subsídios à população. Em suma, os países tinham de seguir uma política econômica liberal.
O funcionamento desses órgãos multilaterais foi sendo aprimorado ao longo dos anos. As renegociações começaram apenas com mais prazo para pagar, caso dos primeiros acordos do Clube de Paris, mas viraram um conjunto de políticas que passou a envolver o perdão de até 75% do débito, de acordo com a situação financeira de cada nação.
O grupo de países credores passou a exigir também que os devedores já estivessem em tratativas com o FMI para renegociar as dívidas, de modo a evitar a volta da crise, e ainda impôs uma condição extra: o país em dívida não poderia fechar acordos menos vantajosos com outros credores. Se o Clube de Paris concedesse o tal desconto de 75%, todos os outros credores de fora do clube deveriam fazer o mesmo.
Essa regra era fácil de aplicar quando o Ocidente tinha as rédeas da economia global. Só que essa dinâmica mudou. A China não está no Clube de Paris, apesar de ter ocupado um papel relevante no financiamento internacional, e não é chegada a acordos com o Ocidente. Os países pobres ficam no papel de filho em meio a uma briga de casal, com pais bastante manipuladores, chantagistas até. Vamos a alguns casos recentes.

Pressão
O Suriname foi um dos países presos nessa disputa entre Estados Unidos e China. O FMI negocia um acordo que deve liberarUS$ 690 milhões em três anos, algo que garantiria ao país a possibilidade de se refazer de sua crise e continuar com o pagamento de US$ 2,4 bilhões em dívida externa. Mas, para liberar a bolada, o órgão exige que o governo cumpra dois requisitos: aprove um programa de austeridade fiscal e ainda convença a China a renegociar os US$ 545 milhões emprestados em programas de construção de estradas e moradia.
Outro país que ficou no centro da queda de braço entre EUA e China foi a Zâmbia, o segundo maior produtor de cobre da África. A nação negociava um resgate de US$ 1,3 bilhão com o FMI, mas o dinheiro estava travado porque a China, maior credor deles, e outros países resistiam em perdoar metade da dívida de US$ 13 bilhões do país africano. No fim de junho, os chineses fecharam um acordo para renegociar metade do volume da dívida, abrindo espaço para o acordo com o FMI após mais de dois anos de disputa.
Rodrigo Zeidan, professor da NYU Shanghai e da Fundação Dom Cabral, avalia que a pressão do FMI pela entrada da China nas negociações não faz sentido econômico. Tudo passa pelo tipo de dívida: projetos de infraestrutura, onde a China predomina, têm características diferentes de financiamento, e garantias, do que os gastos correntes dos países, feito via dívida soberana e onde há mais participação ocidental.
Além disso, obras têm estudo de viabilidade econômica individual e, ao menos em teoria, devem ser rentáveis por si só. Se o projeto foi bem sucedido e está gerando receita para quitar as prestações do crédito, não faz sentido refinanciá-lo.
Uma outra característica da China é que parte dos seus contratos conta com uma garantia no estilo do caução de quem aluga apartamento. O país que fecha o contrato de financiamento deposita uma garantia em uma conta bloqueada, que a China pode acessar caso o país dê um calote. Esse instrumento diminui a exposição chinesa aos riscos de países mais pobres, e faz com que ela tenha menos interesse em sentar em uma mesa de negociações com outros países.
Não é claro, no entanto, o percentual de contratos assegurados pelo instrumento. Pesquisadores afirmam que, em linhas gerais, as condições de crédito chinesas envolvem taxas de juros mais altas, prazos mais curtos e pouca flexibilidade de renegociação.
Para além disso, a China cresceu em importância no financiamento dos países porque atua de forma pragmática: empresas e bancos chineses analisam os projetos e decidem se financiam ou não. Não há interferência alguma na condução da política econômica do país. Com isso, nações carentes de infraestrutura receberam a China de braços abertos.
“Na verdade, essa disputa é a representação de um certo esgotamento da forma como foram montadas as instituições multilaterais idealizadas pelos americanos no pós-Segunda Guerra”, afirma Hiratuka, da Unicamp.
Apesar do barulho, a China está longe de roubar a dominância do dólar – e dos Estados Unidos – no comércio e na dívida internacional. É que o país de Xi Jinping sofre um pesado controle interno de capitais. Isso significa que uma pessoa – ou um país – não pode pegar os yuans e converter instantaneamente em outra moeda. No jargão, isso significa que o yuan não é plenamente conversível.
Um país ter reservas em yuan é o mesmo que um investidor pessoa física comprar ações para formar reserva de emergência – não se trata exatamente de um bom negócio. Não à toa, o FMI mostra que, dos US$ 12 trilhões que os países têm em caixa, apenas US$ 288 bilhões são na moeda chinesa. Ela é a quinta maior no ranking (formado por dólar, euro, iene e libra), mas fica abaixo dos US$ 400 bilhões dominados por outras moedas. Em mais uma comparação, os US$ 288 bi equivalem ao total que o Brasil tem em reservas somadas.
De qualquer maneira, o espaço do yuan está crescendo: no Brasil, 80,4% das reservas internacionais são em dólar, e o segundo colocado é justamente a moeda chinesa, com 5,37%. Até 2018, o Banco Central não tinha um yuan para chamar de seu. Agora a quantia deles ultrapassa o euro nos nossos “cofres” – a divisa europeia responde por apenas 4,74%.
É provável que iniciativas da China de apoio a economias, como ocorreu com a Argentina, continuem a crescer. Uma ameaça real ao dólar dependeria da abertura chinesa ao pleno fluxo de capitais, algo que analistas não veem num futuro próximo. De qualquer maneira, o novo movimento mostra que, pela primeira vez desde o fim da guerra fria, os Estados Unidos têm um rival à altura na nova ordem geopolítica global.