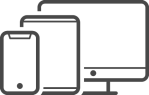Uma breve história do insider trading – e por que é tão difícil punir esse crime
Usar informação privilegiada para ganhar na bolsa é uma prática tão antiga quanto o próprio mercado. Mas as condenações à prisão são raras. Conheça os casos mais célebres de insider trading no Brasil e no mundo – e entenda por que a Justiça ainda pena para fazer a lei valer.

Em 1964, a Ditadura criou um tipo de título público com correção monetária chamado Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN, para os íntimos). Era um jeito de captar dinheiro para cobrir o déficit nas contas públicas sem ter de emitir moeda nova, o que faria a inflação explodir. As ORTNs eram as avós dos títulos IPCA+ de hoje: cobriam a alta nos preços e pagavam um chorinho de ganho real em cima.
Funcionou. O Tesouro vendeu um montão de ORTNs – foram tantas que a dívida pública saltou de 0,5% do PIB em 1965 para 4% em 1969. Deu tão certo que, em 1965, surgiu outro tipo de ORTN, a cambial. Em vez de correção monetária, esse título reajustava a grana com base na taxa de conversão para o dólar.
Aqui começa nossa história. Em 1979, quando as ORTNs já eram velhas conhecidas, Delfim Neto operou a primeira maxidesvalorização do cruzeiro: por decreto, o ministro da Fazenda derrubava em 30% a cotação da nossa moeda. Um efeito colateral disso: quem tinha o título cambial na mão viu o dito-cujo valorizar magicamente, da noite para o dia.
Nos anos 1980, o dono de uma corretora cheio de contatos dentro do governo federal ficou sabendo com antecedência de uma nova maxidesvalorização. Às vésperas do anúncio, pegou empréstimos a rodo e comprou caminhões de ORTNs cambiais. Chegada a nova maxi, ele ganhou tanto dinheiro – mas tanto –, que chamou todos os funcionários da corretora, dos executivos aos faxineiros, em sua sala.
“E perguntou: qual é o seu sonho na vida? Casa própria, carro do ano, excursão à Disney, recepção de casamento, custo dos advogados no divórcio… houve de tudo. E tudo foi patrocinado pelo generoso insider.” Quem conta a história é Ivan Sant’anna, 83, que operou nas bolsas do Rio, de Chicago e de Nova York por 37 anos (ele é autor do livro 10 crônicas de um trader, de onde consta o caso).
Eis um caso folclórico de uso de informação privilegiada, crime mais conhecido pelo nome em inglês, insider trading. A versão clássica consiste em uma pessoa de dentro de uma empresa negociar ações da própria companhia ao saber com antecedência de algo que mexerá com o preço dos papéis. Mas insiders e informantes podem estar em qualquer lugar, basta possuírem um dado não público. Inclusive no governo – como provou o Robin Hood dos títulos cambiais.
Um estudo realizado entre 1993 e 1998 pelo acadêmico Alan Ziobrowski, da Universidade do Estado da Geórgia, revelou que um terço dos senadores americanos investem no mercado de ações, e que eles conseguem, em média, retornos 12% acima do S&P 500 (o principal índice da bolsa de valores de Nova York).
“Qualquer gestor de fundos que bate o mercado regularmente em 2% todos os anos é considerado um gênio”, escreveu Thomas Ferguson, da Universidade de Massachusetts, ao comentar sobre o estudo, em 2006. De fato, 90% dos fundos não obtêm uma performance melhor que o S&P 500.
Ou seja: há uma boa chance de que alguns dos congressistas tenham usado (e usem até hoje) seu conhecimento antecipado sobre os bastidores do país para lucrar. Haverá um aumento de impostos, uma nova parceria público-privada, um lockdown? Saber de tudo isso gera ganhos fáceis para quem chega antes na corrida. É ilegal? É. Nos EUA, desde 1934. Mas trata-se de um crime dificílimo de provar e punir, como você verá a seguir.

Crime e castigo
No Brasil, insider é crime desde 2001. Dá entre um e cinco anos de cadeia. Além dessa inclusão recente no código penal, existem punições administrativas desde 1976, aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é a agência reguladora do mercado financeiro. A mais comum é a multa, que pode alcançar até três vezes o valor obtido ilegalmente – ou da perda evitada, para o caso de alguém que venda suas ações antes de um evento que gere queda nos preços.
Embora a proibição esteja em vigor há quase cinco décadas, a CVM só conseguiu começar a valer o combate aos insiders com a introdução dos pregões eletrônicos, nos anos 2000, que facilitaram a fiscalização. Hoje, a B3 tem um órgão de monitoramento chamado BSM, que detecta oscilações suspeitas. Se os preços de um papel caem logo antes da publicação de um fato relevante, ou se um CPF que nunca negociou ações faz uma operação muito ousada, a BSM dá a letra para a CVM, que investiga o caso.
Antes disso, o Brasil era o velho-oeste: entre 1976 e 1999, o órgão julgou apenas 19 casos. Menos de um por ano. “Ou o mercado nacional era composto por anjos e arcanjos, ou a capacidade de detecção era bem baixa”, escreve Ary Oswaldo Mattos Filho, talvez o maior especialista em Direito de Valores Mobiliários do Brasil, no livro Insider trading: normas, instituições e mecanismos de combate no Brasil. Episódios homéricos, como uma alta de 120% nas ações da Kibon antes do anúncio de um fato relevante em 1976, saíram impunes.
Não era só aqui. Em 1990, míseros 34 países tinham regras explícitas contra insider, e apenas nove haviam tomado alguma providência prática, como aplicar multas. Em 2002, com pregões eletrônicos mais disseminados, houve um salto: já existiam 87 países com regras, e 38 tinham levado uma punição a cabo.
Nossos números melhoraram bem: entre 2008 e 2018, a CVM investigou 54 suspeitas de insider, envolvendo 154 pessoas. 66 foram punidas, a maior parte delas com multas. O problema é que tudo isso rolou na alçada administrativa. A CVM não tem autonomia para conduzir uma ação penal – é o Ministério Público que faz isso. E do lado do MP, a coisa ainda não anda tão bem. Só aconteceram três processos e duas condenações à prisão desde a criminalização, em 2001.
19 foram os casos de insider investigados no Brasil entre 1976 e 1999. Antes dos pregões eletrônicos, o crime passava despercebido.
A primeira rolou quando a Sadia tentou uma aquisição hostil da Perdigão (ou seja: quis comprar mais de 50% das ações da concorrente na marra, sem um acordo de cavalheiros). Os papéis da Perdigão subiram no ato, já que a Sadia ofereceu R$ 27,88 por papel, um preço 21,22% superior ao fechamento no dia anterior.
Sabendo disso, dois executivos da Sadia – Romano Ancelmo Fontana, membro do Conselho, e Luiz Murat, que ironicamente era diretor de relações com os investidores e tinha a função de protegê-los – encheram os bolsos de ações da Perdigão negociadas na bolsa de Nova York. A operação rolou nos EUA para tentar esconder o delito das autoridades brasileiras, e eles lucraram, ao todo, US$ 200 mil. O crime aconteceu em 2006, a ação foi aberta em 2009 e o julgamento só terminou em 2011. Mas ninguém foi para a cadeia, no fim das contas: a Justiça converteu as penas em serviços comunitários, além de cobrar mais multas e impedir os réus de atuar no mercado de capitais.
O outro caso é cortesia de Eike Batista. Nos anos 2000, o agora ex-bilionário idealizou um conglomerado conhecido como Grupo EBX, que atuaria em tudo que é ramo: logística, indústria naval, mineração, extração de petróleo e gás etc. Muita gente pôs fé na empreitada e investiu os tubos nos IPOs dessas empresas – que, em 2013, se revelaram uma cilada e implodiram na bolsa.
Em 19 de abril de 2013, Eike vendeu ações da OSX, o estaleiro da sua família de companhias – onde seriam construídos navios e plataformas para atender a OGX, a petroleira do grupo. Menos de um mês depois, em 17 de maio, a OSX anunciou um novo plano de negócios, muito mais humilde que o original. É que a OGX deu um prejuízo de R$ 860 milhões no 1T13 e puxou a OSX junto para o fundo do poço. Com o anúncio, as ações da OSX desabaram e Eike evitou uma perda de R$ 10,5 milhões vendendo papéis antecipadamente.
O julgamento desse caso, em 2021, terminou com 6 anos e 8 meses de cadeia e R$ 409 milhões de multa (isso, só pelo insider – houve outros crimes contra o mercado financeiro que engordaram a conta). Mas Eike entrou com vários recursos e segue em liberdade, vivendo no Rio. Ele permanece proibido de ocupar cargos em empresas de capital aberto.
Esses casos são exceções. A impunidade é comum porque insider é um crime difícil de provar. Mesmo quando há um indício claro de que a informação privilegiada chegou às mãos de um acusado, o MP ainda precisa estabelecer um nexo causal entre o acesso a aquela informação e o ato. E aí, danou-se: pelos princípios do direito, correlação não implica causação. Não é porque duas coisas aconteceram uma após a outra que elas se deram uma em função da outra.
“A dificuldade probatória é demonstrar que a pessoa sabia e que negociou porque sabia. Justificar que a negociação ocorreu em razão da informação é a parte mais difícil de montar um caso de insider”, diz Viviane Prado, professora da FGV e pesquisadora do Núcleo em Mercados Financeiro e de Capitais (MFcap). Foram ela e seus colegas que geraram a maior parte dos dados mencionados acima.

Desde os primórdios
Já havia insider na pré-história do mercado financeiro. Reza a lenda que David Ricardo, o lendário economista britânico com nome português, deixou um mensageiro de tocaia vigiando a batalha de Waterloo, na Bélgica, o embate final de Napoleão contra os britânicos e seus aliados, em 1815. Se a França vencesse, a bolsa de Londres desabaria. Se o desfecho fosse favorável à Grã-Bretanha, por outro lado, as ações subiriam.
Os britânicos ganharam. Quando o embate terminou, o mensageiro disparou até o litoral pulando de cavalo em cavalo, pegou um barquinho para o outro lado do Canal da Mancha e deu a notícia em primeira mão para Ricardo, que correu para a bolsa.
Ricardo entrou no pregão aos prantos, desesperado, vendendo tudo que tinha. Os faria limers do século 19 entraram em pânico, interpretando que Napoleão havia vencido – exatamente o engano que Ricardo pretendia. Começou uma liquidação em massa. Os especuladores entraram no modo Maria-vai-com-as-outras e venderam todas as suas ações.
Por meio desse requinte extra de crueldade, Ricardo pôde ganhar os tubos por dois métodos: primeiro, usando short selling, um instrumento que permite apostar na queda de uma empresa (e ganhar um montão caso ela se concretize). Depois, comprando papéis em liquidação – já que eles voltaram ao valor original assim que a notícia correta se espalhou, corrigindo o desabamento.
Quem contava essa anedota era Paul Samuelson, prêmio Nobel. E embora não haja evidências sólidas de que o caso realmente tenha ocorrido, a mensagem é clara: desde que existe um mercado de ações, há gente com acesso a informação privilegiada se aproveitando para manipulá-lo. Por séculos, fazer isso não foi crime (ou, sequer, algo taxado como antiético). “Antes do ano de 1910, ninguém nunca havia questionado publicamente a moralidade de executivos, diretores e funcionários negociarem ações de suas empresas”, escreve Henry Manne no livro Insider Trading and the Stock Market.
Nos EUA, um escândalo pioneiro rolou em 1906, quando a ferrovia Union Pacific Railroad estava prestes a anunciar um aumento na distribuição de dividendos aos seus acionistas. A diretoria mandou segurar o anúncio por dois dias – e então correu para comprar ações da própria empresa antes que a notícia fosse a público e elas valorizassem.
Esse foi um dos primeiros casos de insider cobertos de maneira crítica pela imprensa, mas o assunto só ganhou projeção midiática suficiente para virar conversa de bar após o crash de 1929, por causa de um lobo em pele de cordeiro: Albert Wiggin, CEO do banco Chase.
O colapso da bolsa de Nova York começou em uma quinta-feira, 24 de outubro, quando o índice Dow Jones abriu desabando 11%. Três banqueiros bolaram um plano para estancar a sangria: além de Wiggin, entraram no rolo um representante do Banco da Cidade de Nova York – que hoje você conhece por Citibank, ou só Citi – e um do Morgan, que décadas depois se fundiu com o Chase, dando origem ao superbancão JP Morgan Chase.
O trio desembolsou alguns milhões – coisa que eles tinham de sobra – e deu na mão do vice-presidente da bolsa, Richard Whitney. Então Whitney entrou no saguão, gritando para quem quisesse ouvir, que compraria 25 mil ações da siderúrgica U.S. Steel por US$ 205 cada uma, uma cifra bem superior à cotação do momento. E repetiu o ritual com blue chips de outros setores. A compra massiva estabilizou o índice em uma queda de apenas seis pontos.
Wiggin, porém, não era bobo: sabia que a medida era paliativa. É que o crash, claro, não foi desencadeado por um dia atípico de mau humor. Foi o estouro de uma bolha que estava inflando há muito tempo. O valor somado das ações das companhias listadas na bolsa cresceu aproximadamente 100% de 1928 para 1929, embora os lucros das empresas tivessem passado por uma alta de “apenas” 10% ao ano. Havia muitos papéis sobrevalorizados, e muita manipulação para inflar os preços ainda mais. Um banqueiro saberia que a situação era insustentável.
Por isso, desde setembro, Wiggin estava vendendo suas ações do Chase, e também fazendo short selling, ou seja: apostando na queda do banco. Ele movimentou 42 mil ações ao todo, e lucrou US$ 4 milhões quando tudo veio abaixo. Em 1932, uma espécie de CPI no Senado americano sobre o crash de 29 descobriu essas transações. O baque na opinião pública foi particularmente grande porque o país estava mergulhado na Grande Depressão, com tolerância baixa a banqueiros barrigudos de paletó. Em 1934, a primeira norma contra insider trading da história entrou em vigor nos EUA – chamada de “provisão Wiggin”, para eternizar a infâmia.
50 anos se passaram até um caso alcançar proporções similares na mídia americana – ainda que os valores movimentados ali tenham sido minúsculos. Em 1987, o jornalista Foster Winans trabalhava como repórter do Wall Street Journal e era um dos autores da coluna “Heard on the Street” (em tradução livre, “ouvi na rua”. No caso, a rua do muro – Wall Street). Os textos diários traziam informações de bastidores sobre empresas com ações negociadas na bolsa. Quando o jornal saía, de manhã cedo, frequentemente os papéis das companhias citadas por Winans abriam em queda ou em alta de acordo com o conteúdo da coluna.
Em um encontro hollywoodiano no luxuoso Racquet Club, um corretor chamado Peter Brant, da centenária firma Kidder, Peabody & Company, ofereceu a Winans o seguinte trato: o jornalista passaria o conteúdo da coluna antes da publicação para que Brant pudesse apostar nas ações mencionadas; em troca, Brant lhe daria uma parcela dos lucros obtidos. Winans tirava US$ 28 mil por ano – o equivalente a US$ 86 mil de hoje, exatamente o salário médio de um nova-iorquino. Nada próximo do padrão Wall Street. E o jornalista caiu em tentação.
O caso de Winans foi pequeno em valores – ele admitiu ter embolsado US$ 31 mil por 24 vazamentos ao longo de três ou quatro meses. Mas entrou para a história por outro motivo: tramitou até chegar à Suprema Corte dos EUA, que não conseguiu decidir se um jornalista podia ou não ser considerado um insider sem, de fato, estar dentro das empresas. Havia oito juízes naquela ocasião, quatro votaram contra a condenação e quatro votaram a favor, em um raríssimo empate. Quando isso acontece, a Suprema Corte acaba obrigada a concordar com a instância inferior, que havia decidido pela acusação.
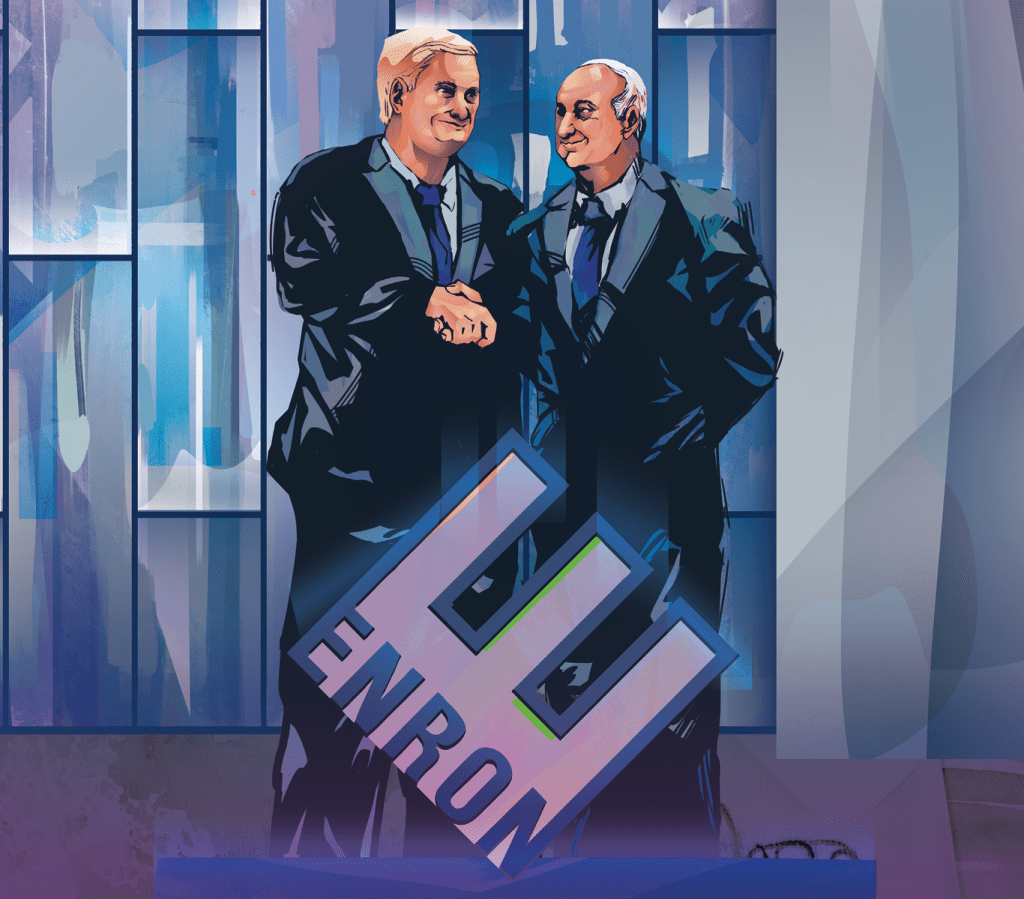
Foi de Americanas
Voltando ao Brasil, um caso que ainda pode dar pano para a manga é o da Americanas. Dados da B3 mostraram que houve um número descomunal de vendas a descoberto e operações com opções de venda e compra de ações AMER3 no finalzinho do pregão de 11 de janeiro de 2023, horas antes de a bomba sobre a varejista sair na imprensa.
Essas operações de curtíssimo prazo, que geraram lucro instantâneo quando a cotação caiu 77%, se sobressaem nos gráficos. Mas fazia tempo que havia gente apostando no pior. A quantidade de ações da Americanas alugadas para realizar short selling tinha crescido 580% a partir do segundo trimestre de 2022.
Caso a CVM comprove que essas operações foram realizadas por gente de dentro da empresa, que já sabia do rombo contábil, esse será um dos grandes escândalos de insider da história do Brasil – e vai lembrar muito a derrocada de outra companhia, ainda maior: a americana Enron.
Ela nasceu em 1985, quando a InterNorth, de gás natural, comprou outra gigante do mesmo setor, a Houston Natural Gas, que atendia o litoral do Texas. Embora a InterNorth fosse o peixe maior, foi o CEO da Houston, Kenneth Lay, quem acabou ficando no comando após a fusão.
O merger se tornou um leviatã: ao longo dos anos 1990, as ações da Enron valorizaram bruscamente. Entre 1998 e 2000, quando ela atingiu o pico de US$ 90,75, foram 350% de alta. A companhia foi eleita a mais inovadora dos EUA pela Forbes por seis anos consecutivos. É que eles esticaram os tentáculos para além dos ramos de energia elétrica e combustíveis fósseis: passaram a fornecer internet de banda larga – e, de quebra, tentaram inventar a Netflix. Sem exagero: a Enron fechou com a Blockbuster para bolar um serviço pioneiro de streaming.
(Vale dizer que a locadora tinha um dedo podre homérico para escolher seus parceiros comerciais: em 2007, a Americanas comprou os direitos de uso da marca no Brasil, que passou a alugar DVDs e VHS em suas lojas.)
A EBS – nome do braço de inovação online da Enron – até conseguiu prototipar um serviço on demand nos moldes atuais. Mas, além de limitações tecnológicas de duas décadas atrás, havia o problema de convencer grandões como Warner ou Fox a cederem conteúdo para um modelo de negócio futurista, que desafiava a hegemonia da TV a cabo. Resultado: a ideia nunca saiu do papel, nem rendeu um centavo.
A não ser, é claro, que você esteja lendo o balanço da Enron do primeiro trimestre de 2001. Ali, constava que a parceria com a Blockbuster havia gerado US$ 110 milhões de lucro. E que a empresa como um todo havia lucrado US$ 536 milhões no período. Resultado da contabilidade praticamente artística promovida por Jeffrey Skilling, um ex-consultor da McKinsey que havia se tornado braço direito do CEO Lay. Skilling pôs na conta os lucros que esperava ter, como se a nova frente de negócio já tivesse dado certo.
Essa prática de somar ganhos futuros aos resultados do presente rolava nos balanços há anos – bem como o expediente de classificar os empréstimos pegos em bancos como receita – permitindo que a Enron fechasse todo trimestre com lucros fictícios. Quem sabia da podridão não perdeu tempo. Logo começou a atividade paranormal nos bastidores. Entre 1999 e 2001, vários executivos da cúpula da Enron venderam, ao todo, 17,3 milhões de ações da empresa – e levantaram US$ 1,1 bilhão.
O auge da sacanagem, porém, ainda estava por vir. A partir de março de 2001, começaram a circular na imprensa suspeitas de que os balanços da Enron eram uma fraude. Em agosto, Kenneth Lay vendeu, na surdina, 93 mil ações por US$ 2,1 milhões. Ao mesmo tempo, disparou e-mails e mensagens de chat para os funcionários afirmando que as práticas contábeis da companhia eram irretocáveis.
Em outubro, a empresa anunciou, à la Americanas, que teria de revisar os balanços divulgados nos quatro anos anteriores. As ações, então, desabaram a US$ 0,30. Lay tinha vendido as suas por US$ 22,58.
No rescaldo da bomba, várias pessoas da cúpula da empresa foram acusadas de insider trading e outros crimes. Lay foi considerado culpado de dez das acusações, mas morreu logo após o julgamento e não chegou a cumprir pena. Skilling, ainda jovem, pegou 14 anos de prisão e precisou pagar US$ 42 milhões em indenizações.
O caso da Enron ficou marcado como a maior picaretagem corporativa da história americana, e ganhou uma publicidade imensa. Mesmo assim, as infrações deste gênero ainda não ocupam o lugar de indignação que deveriam no imaginário popular.
O FBI calcula que roubos, furtos, tráfico de drogas e outras bandidagens de rua movimentem US$ 16 bilhões por ano nos EUA. Já os crimes de colarinho branco, categoria que inclui sonegação fiscal, esquemas de pirâmide e mutretas na bolsa, movimentam US$ 300 bilhões. Não há uma estatística equivalente para o Brasil, mas é possível que as proporções sejam equivalentes. Que a CVM e o Ministério Público se dediquem cada vez mais a combater esses crimes. Faria mais diferença do que parece.
Agradecemos: Ivan Sant’anna, trader e autor; Alcides Ferreira, jornalista; Beatriz Pacobahyba, assessora de imprensa da CVM. Consultamos os livros Trading Secrets de Foster Winans e Insider trading: normas, instituições e mecanismos de combate no Brasil, de Viviane Padro et al.