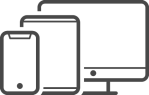Mercado em festa; economia deprimida: entenda o paradoxo
O dinheiro novo que os bancos centrais imprimem para combater os efeitos da pandemia escoa para o sistema financeiro, e cria valorizações recorde em plena crise global.

Na ciência, existem duas físicas: a relativística e a quântica. A primeira descreve o macrocosmo: o balé das estrelas, das galáxias, dos buracos negros. A segunda cuida do mundo micro: elétrons, quarks, neutrinos. As leis que regem esses dois mundos são absolutamente distintas. E a ciência não sabe como uma afeta a outra – quem descobrir terá encontrado aquilo que os físicos chamam de Teoria de Tudo.
Na economia é parecido. Há dois mundos distintos, e o intercâmbio entre eles é, no mínimo, nebuloso. Um desses mundos é Wall Street; não exatamente as instituições financeiras que ocupam a zona sul de Manhattan, mas o mercado financeiro global mesmo – Nasdaq, B3, a bolsa de Katmandu, no Nepal. Todos esses agentes estão na Wall Street mais ampla, a do macrocosmo do dinheiro.
E tem o outro mundo na economia. É aquele que os economistas chamam de “Main Street”. O termo significa “rua principal”, e descreve a economia-raiz: a da feira livre, da rotisseria, dos trabalhadores assalariados.
Às vezes há uma conversa clara entre a Wall Street e a Main Street. Se a economia do dia a dia vai bem, com baixo desemprego e alto consumo, a do mercado financeiro também fica legal: o clima positivo das ruas faz os tubarões da grana investirem mais, surgem mais empregos, e a Main Street agradece. Harmonia pura. Mas não é o que está acontecendo agora. A Wall Street está soltando fogos. O Ibovespa viveu sua terceira maior alta de todos os tempos em novembro (a terceira maior para um mês inteiro: 15,9%). Enquanto isso, na Main Street, o desemprego é recorde: 14,6%.
Lá fora, mesma coisa. O S&P 500 teve seu segundo melhor mês do século 21 em novembro. No mesmo mês, a criação de novas vagas de trabalho caiu 60%: de 650 mil em outubro para 250 mil no mês 11. E a taxa de desemprego está em 6,7% – a maior desde 1981.
Por que essa disparidade toda? Porque há muito dinheiro novo circulando pelo mercado. Principalmente nos EUA. O governo de lá emitiu pelo menos US$ 2 trilhões, que se transformaram em ajuda financeira a pessoas, empresas, hospitais.
Só que dinheiro é igual infiltração. Uma vez que um governo emite moeda para reavivar a economia, a grana segue escorrendo, e acaba sempre lá embaixo, no mercado financeiro.
Vamos dizer que um hospital usou a parte desse dinheiro novo que lhe coube e comprou equipamentos. A moeda não morre aí. Quem fabricou o equipamento hospitalar recebe a grana. E pode colocá-la num fundo de ações.
E assim um dinheiro que nasceu para comprar respirador (ou comida, ou salários) na Main Street vai parar na Wall Street. E ela começa a nadar em dinheiro. É por isso que as bolsas subiram sem parar. No Brasil, além da infiltração de reais recém-emitidos, tem pingado um pouco da piscina de dinheiro dos EUA. Novembro viu a entrada de mais R$ 30 bilhões do exterior na B3. É o maior volume da história em recursos gringos para um único mês.
Do ponto de vista dos grandes fundos internacionais, que é de onde vêm esses bilhões, investir no Brasil é um negócio de alto risco. Dado o volume recorde de dinheiro nas mãos desse pessoal, porém, o que temos não é um apetite por risco. É uma larica.
Tanto que até o mais temerário dos ativos entrou de novo na mira de quem investe: o bitcoin. E, surpresa, ele retomou sua cotação recorde em novembro. Mas e aí? Vale mesmo entrar nessa e arriscar em criptomoeda? Veja mais na nossa reportagem de capa. Só adiantando: a resposta final ainda está tão distante quanto a Teoria de Tudo.