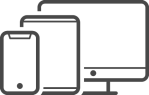O fim do 10x sem juros?
O parcelamento no cartão é um dos motores da economia. Agora, virou o bode expiatório na disputa pela redução das taxas do rotativo. Entenda a briga e saiba quais são as propostas para baixar os juros de quem pedala a fatura.

“Quer parcelar?” é a pergunta que segue o “débito ou crédito?” a cada vez que alguém faz uma compra. Já sai no automático, assim como a resposta-pergunta do cliente: “em quantas vezes?”. Esse diálogo curto sintetiza como o “dez vezes sem juros no cartão” se tornou algo tão brasileiro quanto jabuticaba, guaraná e cachaça.
60% de tudo o que se compra no Brasil é no cartão de crédito. Dessa bolada, 45% é parcelada sem juros. O total de crédito concedido pelas instituições financeiras via cartão soma R$ 513 bilhões. Foi um movimento incentivado pelo mercado: existem 430 milhões de plásticos no país, dois para cada brasileiro, ou quatro para cada pessoa que faz parte da população economicamente ativa.
Eles são o motor do consumo e, ao mesmo tempo, a nêmesis da economia brasileira. O Brasil tem 71 milhões de pessoas com contas em atraso – e ⅓ de tudo o que deixou de ser pago é no cartão de crédito.
O instrumento cresceu de forma tão descontrolada que se tornou disfuncional – e está na mira do governo. O Congresso aprovou uma lei que obriga instituições financeiras a propor uma solução para as altas taxas de juros de quem pedala o pagamento de uma parte da fatura. A negociação será intermediada pelo Banco Central e, depois, precisa passar pelo Conselho Monetário Nacional, composto pelos ministérios da Fazenda, Planejamento e pelo próprio BC. Sem acordo, passará a valer um teto de juros de 100% da dívida – hoje a média das taxas está em 445%.

A eventual imposição de um juro máximo para a linha abriu uma caixa de pandora no mercado financeiro. Grandes bancos, fintechs, operadoras de maquininhas e lojistas entraram em uma guerra pública em que tentaram apontar culpados para o problema enquanto protegiam o próprio negócio de eventuais medidas para de fato reduzir os juros.
O estopim foi dado pelos bancos. Há anos eles vêm colocando a culpa das altas taxas do rotativo na existência do parcelamento sem juros. O problema é o seguinte: o banco decide o limite de crédito do cliente e se compromete a pagar ao lojista mesmo em caso de inadimplência na fatura. Mas o banco não é remunerado por esse crédito que ofereceu. O que as instituições financeiras afirmam é que os juros do rotativo são caros porque precisam compensar um uso do cartão que não gera receitas e traz risco de inadimplência. Trata-se de um subsídio cruzado.
Só tem uma questão: foram os próprios bancos que criaram esse mecanismo, e ele é mais intrincado do que essa combinação de rotativo e parcelado. Qualquer solução para os juros escorchantes do cartão de crédito, então, passa por entender como esse problema se formou no Brasil. Para isso, vamos primeiro viajar no tempo, de volta aos anos 1980 e 1990.
Os tempos primórdios
Há pouco mais de três décadas, no período que antecedeu o Plano Real, quem mandava no comércio era o cheque, uma folha de papel em que você escrevia o valor do pagamento e autorizava o lojista a debitar da sua conta corrente. Tratava-se de um substituto do dinheiro, um meio mais portátil de realizar pagamentos à vista de somas mais consideráveis.
O brasileiro deu seus pulos. Era época de hiperinflação, o que fazia o salário evaporar tão logo pingava na conta, dada a remarcação constante de preços nos supermercados. Sobrava pouco para a compra de bens de maior valor.
Aí o comércio inventou o cheque pré-datado, como uma forma de conceder crédito aos clientes que já tinham gastado o salário. Na hora do pagamento, em vez de preencher o valor total da compra em uma única folha de cheque, o cliente assinava duas, três, cinco ou dez folhinhas – com vencimento mensal. Estava criado o pagamento parcelado pelo lojista.
Não era o mundo ideal: cabia ao vendedor checar com os birôs de crédito se o indivíduo era um bom pagador. E ele precisava esperar para receber as prestações, o que secava o caixa do negócio. Isso sem falar no risco de calote na hora de descontar o cheque.
Resultado: surgiu ali uma nova indústria de crédito para empresas, que comprava os cheques do lojista. Se fosse um cheque de $ 100, o comerciante venderia por, digamos, $ 85 e colocaria o dinheiro em caixa – os 15% eram os juros para repassar o problema adiante. Dali para frente, ficava por conta da financeira descontar o cheque na data combinada – e também o risco de o cliente estar sem dinheiro na conta para honrar o pagamento.

Naquela época, se você fosse o consumidor, havia uma vantagem ainda maior em “comprar tempo” ao parcelar uma despesa: a inflação te ajudava a quitar o produto, porque a disparada de preços fazia com que os salários fossem corrigidos mensalmente, via “correção monetária”. Agora imagine a seguinte situação: você compra uma TV de $ 1.000 e paga com dez cheques de $ 100. No primeiro mês, $ 100 são $ 100 mesmo. Aí, no segundo mês, a inflação é de 10%. Significa que aqueles $ 100 passam a valer, em termos reais, apenas $ 90. Mas o seu salário é reajustado em 10%, e continua a valer o mesmo perante a inflação.
Isso significa diminuir paulatinamente o peso da prestação no seu orçamento. E a consequência é uma chance menor de não ter saldo na conta na hora que o cheque for descontado.
Só tem um detalhe: quem operava nesse mercado eram financeiras menores ou até empresas não bancárias, que ficavam à margem da regulação, como lembra Boanerges Ramos Freire, presidente da Boanerges & Cia, especialista em serviços financeiros.
Operacionalizar esse serviço de antecipação de cheques era uma tarefa quase cartorial, já que as folhas precisavam ser guardadas em arquivos à espera da data e alguém da firma tinha de ir para a fila do banco descontá-los (numa época em que se ia a agências). Não valia a pena para os bancos, que ficavam de fora da jogada.
A coisa só começou a mudar quando eles passaram a investir no cartão de crédito, na virada para os anos 1990. O concorrente não era o dinheiro, mas sim o cheque. E aí não tinha jeito: para convencer consumidores e lojistas a aceitar o cartão, era preciso fazer tudo aquilo que o cheque já fazia – e mais um pouco.
Foi aí que os bancos brasileiros inventaram o parcelado sem juros no cartão – aquilo que hoje eles mesmos dizem que cria uma distorção no mercado. Para o lojista era ainda melhor, porque ele não precisaria mais se preocupar com a inadimplência. O banco cuidaria de tudo. Havia um custo, e uma parte dele era invisível. Os subsídios cruzados, que hoje são os “culpados” pela crise, estavam lá desde o começo. Só que, inicialmente, não se tratava de um problema para os bancos.
Controle total
A indústria de cartões é composta por três pilares: as bandeiras (Visa, Mastercard, Amex, Elo), as maquininhas (Rede, Cielo, Getnet, PagSeguro) e os emissores de cartões (bancos e fintechs).
Aos emissores cabe o papel de conceder crédito ao cliente. Eles avaliam a capacidade de pagamento e dizem quanto cada pessoa pode gastar. As maquininhas são o ponto de contato entre o lojista e o banco, ou seja: as responsáveis por processar cada compra e garantir que o pagamento será feito. E as bandeiras conectam todo mundo para a transação acontecer.
Cada vez que você passa o cartão em uma maquininha, há a cobrança de uma taxa que serve para remunerar os três elos da cadeia. Essa é a chamada taxa de desconto – hoje de 2,34% no crédito, em média, segundo o Banco Central. Dentro dela há a tarifa de intercâmbio – decidida unilateralmente pelas bandeiras, que dividem um percentual do valor com o banco. O custo médio de intercâmbio hoje é de 1,64%.
Quando você paga R$ 100 no cartão, o lojista fica com R$ 97,66 e R$ 2,34 vão para a indústria de cartões – R$ 0,70 são da maquininha, enquanto R$ 1,64 ficam entre banco e bandeira.
No passado, era um mero detalhe: os bancos eram os únicos donos das maquininhas, e fechavam acordos com as bandeiras de cartão para emitir cartões de uma ou da outra. Ou seja, eles ganhavam em todas as pontas da prestação do serviço. Havia ainda o subsídio cruzado no crédito.
Quando o banco fixa o limite do cartão de um cliente, ele precisa separar um percentual do montante em caixa para fazer frente à possibilidade de um calote. Para bons pagadores, o BC determina que se reserve 0,50% do valor emprestado, e os percentuais vão subindo por faixa de risco. Quanto mais arriscado, mais alta a reserva. E se o dono do cartão já tem algum atraso, o banco aumenta essa provisão.
Isso acontece com empréstimos de todos os tipos, mas em linhas pré-aprovadas (caso do cartão de crédito e do cheque especial), a instituição financeira não tem garantia alguma. O dinheiro que o banco reservou para o caso de calote fica “parado” no cofre e não pode ser utilizado para empréstimos a juros a outros clientes – seu grande ganha-pão. É uma perda indireta que faz parte da natureza do cartão. Por outro lado, as instituições financeiras sempre cobraram anuidades dos clientes para oferecer o serviço.
E estava tudo certo. O banco compensava essa ausência de receitas com juros oferecendo o crédito via “antecipação de recebíveis” ao lojista, que continuava vendendo em dez vezes sem juros – agora no cartão –, mas precisava do dinheiro à vista, e pagava juros por isso.
“No início, havia um equilíbrio entre todos os elos da cadeia. O horizonte de três a quatro meses no parcelamento facilitava o planejamento familiar e o não acúmulo de dívidas”, afirma o presidente da Febraban, Isaac Sidney.
Mais ou menos. O equilíbrio existia porque era um sistema fechado que fazia a grana pingar em um lugar só: o cofre do banco. Isso só começou a mudar em 2009.
A concorrência
Até a chegada dos anos 2010, os cartões da bandeira Mastercard só passavam nas máquinas da Rede (do Itaú); os da Visa, apenas nas da Cielo (que pertence ao Banco do Brasil e ao Bradesco). Por sinal, as empresas tinham outros nomes, Redecard e Visanet, o que deixava clara a filiação da bandeira com a máquina. Era um duopólio. Os lojistas precisavam ter duas maquininhas, pelas quais pagavam aluguel, para garantir que poderiam atender a todos os clientes.

Em 2009, a Secretaria de Direito Econômico, vinculada ao Ministério da Justiça, decidiu pelo fim da exclusividade: todas as maquininhas precisavam aceitar todas as bandeiras. A decisão abriu o mercado para o surgimento de concorrentes no setor. É ali que aparecem as independentes PagSeguro, Stone e Getnet (comprada depois pelo Santander).
Ao longo da década, parte da receita das transações com cartão deixou de ir diretamente para os bancos e passou a cair na conta das maquininhas. Não só isso: elas também passaram a oferecer a antecipação de recebíveis aos lojistas, concorrendo diretamente com os bancos no crédito.
Essa é a principal queixa dos bancos atualmente. Em meio à guerra dos cartões, iniciada pela pressão por juros menores no rotativo, a Febraban apontou o dedo para as maquininhas.
A entidade analisou os resultados financeiros de PagSeguro e Stone, as duas empresas do setor que são independentes dos grandes bancos e têm ações negociadas em bolsa. A conclusão da Febraban é que, juntas, essas companhias teriam registrado prejuízo de R$ 1 bilhão em 2022 caso a única fonte de receitas delas fossem as taxas de desconto – a receita original do segmento, lá nos primórdios da indústria.
Isso teria feito com que as maquininhas incentivassem lojistas a vender a prazo. Com mais parcelas, maior a necessidade de antecipação dos recebíveis.
Tudo isso com o chapéu alheio: o crédito ao consumidor é oferecido pelo banco que emitiu o cartão. Mesmo que o cliente não pague a fatura, o lojista recebe o valor da compra. Ou seja, ele não corre risco se decidir vender em prestações a perder de vista. E como o pagamento vai pingar na conta porque os bancos garantem, a operadora da maquininha também não tem risco de sofrer calote. Por isso ela teria mais motivos para promover o parcelamento infinito.
Não é diferente dos grandes bancos, com uma exceção. Rede e Getnet estão “escondidas” dentro dos resultados financeiros de Itaú e Santander, isso depois de os dois bancões terem aberto o capital das empresas, para logo depois fechar, ante um desempenho frustrante na bolsa. Das maquininhas ligadas aos bancões, a única que tem capital aberto é a Cielo.
“Naquele momento, os bancos criaram o parcelado sem juros sem a consciência do tamanho que ele iria representar e os efeitos adicionais do subsídio cruzado. Agora o gênio saiu da garrafa e ninguém consegue colocá-lo de volta”, afirma Boanerges Freire.

Na marra
Não é a primeira vez que se tenta resolver os problemas dos juros altos do cartão. Em 2017, o Banco Central decidiu que nenhum cliente poderia ficar mais de um mês no rotativo. Depois desse período, o banco é obrigado a parcelar a fatura do cliente, cobrando uma taxa mais baixa.
Na prática, os juros médios de 445% ao ano não existem, já que nenhum cliente pode usar a linha por 12 meses. A taxa média mensal é de 15,2%, o que significa que uma dívida de R$ 1 mil se transforma primeiro em R$ 1.152. Passados os 30 dias, o cliente tem duas possibilidades: quitar o valor total ou parcelar a fatura, a juros menores.
Quando essas regras foram criadas, os juros do rotativo estavam em 480% ao ano, enquanto os de parcelamento eram de 163% (8,4% ao mês). Atualmente, o parcelamento de fatura custa 195% ao ano (9,4% mensais), de acordo com o Banco Central.
Acontece que esses percentuais médios de parcelamento no cartão incluem todos os tipos de pagamento a prestação com o plástico, até as compras parceladas pelo próprio banco e que costumam ter juros de 5% ao mês. Essa taxa média publicada pelo BC não reflete, portanto, o quanto os bancos realmente cobram para financiar uma fatura que deixou de ser paga integralmente pelo cliente.
Veja dois exemplos reais extraídos dos aplicativos de bancos: no banco A, o juro do rotativo oferecido ao cliente era de 15,69% ao mês, enquanto o parcelamento posterior da fatura era de 12,69%. No banco B, o rotativo custava 13,75% ao mês, mas se o cliente precisasse parcelar o saldo da fatura pagaria praticamente a mesma coisa – 13,5%.
Vamos às contas com base no primeiro caso: uma dívida de R$ 1 mil no rotativo se converte em R$ 1.157 no primeiro mês. Esse valor, dividido em 10 vezes com os juros do parcelado, vira um débito de R$ 3.820 – mais que o triplo do valor original da fatura. Se, em vez de parcelar a dívida, o cliente contratasse um crédito pessoal, pagaria R$ 1.993, 48% mais barato do que renegociar via cartão.
Ou seja: o parcelamento de fatura também é surrealmente caro. A inadimplência fica na faixa de 10%, contra 50% nos calotes no rotativo. Isso significa que as perdas dos bancos são bem menores quando o parcelamento acontece. Ainda assim, a taxa dessa modalidade é o dobro da média de todos os créditos concedidos a consumidores.
Os números mostram um erro crasso no debate sobre como resolver a crise do cartão de crédito: mirar apenas o rotativo, que já não é o problema central do produto, apesar dos juros elevados. Portanto, a proposta que chegou a ser aventada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de acabar com o rotativo, é inócua. O que ele sugeriu é que todo cliente que deixasse de pagar a fatura integralmente deveria ir direto para um parcelamento, não se atentando ao fato de que os juros dessa linha também têm potencial de estrangular o cliente.
Já o Congresso decidiu seguir pela mais draconiana das medidas: impor um teto de juros. A ideia é que bancos precisarão aprovar, junto ao CMN, todos os anos, a taxa máxima de juros cobradas no rotativo e no parcelamento de faturas. Caso não haja acordo, a lei prevê que uma dívida no cartão poderá crescer apenas 100%.
Os bancos afirmaram que limite de juros acabaria levando a uma redução na oferta de cartões. As evidências, porém, mostram o contrário.
A bolha dos cartões e o teto de juros
No fim de 2018 existiam 184 milhões de cartões de crédito no país. Quatro anos depois, são 430 milhões, um crescimento de 134%. A disparada é cortesia da expansão da concorrência.
Bancos digitais passaram a oferecer cartão de crédito, a maior parte deles sem anuidade, para atrair clientes que antes se serviam apenas nos grandes bancos. A vantagem de começar pelo cartão de crédito era justamente ganhar a receita da tarifa de intercâmbio, aquela que o banco recebe a cada vez que o cliente usa o cartão.
E havia demanda: por muitos anos, os bancos foram extremamente cautelosos na hora de dar cartão ao consumidor. Eles até emitiam o produto a clientes de renda menor, mas concediam limites extremamente baixos. Era um jeito de ganhar com a anuidade, mas limitar os riscos de calotes.
E não havia muito para onde correr, já que, no passado, você mantinha uma conta bancária, aquela em que recebia o salário, e esse era o passaporte para ter acesso a serviços de crédito. Se o banco A, com acesso a sua renda, te concedesse um limite baixo no cartão, dificilmente o B, sem a mesma garantia, seria mais generoso.

Aí clientes de renda e limite mais baixo se socorriam com cartões ou nos carnês de lojas para consumir. As fintechs chegaram para fechar essa lacuna, o que elevou a capacidade de endividamento do público – e o risco de calote para os bancos.
Em 2019, de todos os cartões em circulação, 50 milhões haviam sido emitidos por grandes bancos, ante 8 milhões de fintechs. Três anos depois, as fintechs eram responsáveis por 36 milhões dos cartões em circulação, enquanto os bancos detêm 57 milhões. Em termos percentuais, os bancões avançaram 14%, enquanto as fintechs dispararam 350%.
É uma questão matemática: quando se parte de uma base menor, é natural que o crescimento em termos percentuais seja maior. Mas essa disparidade de aumento na oferta de cartões tem sido apontada pelos bancos como mais uma razão para a disparada da inadimplência.
“Os bancos têm mais capacidade de evitar uma sobreoferta do que os entrantes”, defende Isaac Sidney, da Febraban.
A rigor, não faz tanta diferença. A tarefa de quem concede crédito, seja um banco consolidado ou uma fintech, é justamente avaliar as condições de mercado – se há muito ou pouco crédito disponível – para estimar o risco do cliente que está tomando o empréstimo. Além disso, o aumento da concorrência é apenas mais um dos fatores que expandiram o uso do cartão, junto com a renda, a inflação, a taxa básica de juros etc.
E a teoria econômica mostra também o seguinte: há um limite de quanto um banco pode subir os juros para cobrir a inadimplência de uma linha de crédito. A partir de um determinado ponto, os juros altos tiram apenas bons pagadores da jogada, gente que não vai topar custo de 400% ao ano, mas não repelem os maus – e aí não tem milagre que faça a conta fechar.
Por outro lado, um exemplo brasileiro mostra que o teto de juros pode, sim, ser eficiente. Em 2020, o Banco Central decidiu que os bancos deveriam cobrar no máximo 8% ao mês no cheque especial. Motivo: um estudo conduzido pela equipe econômica da entidade concluiu que clientes do crédito emergencial são pouco sensíveis à taxa cobrada. O juro poderia ser de 2% ou de 20%, e a demanda seria a mesma. Na prática, o Banco Central entendeu que os valores cobrados eram abusivos e impôs um limite.
À época, os bancos disseram que o teto de juros reduziria a oferta de crédito.
De fato: no primeiro ano, o uso do cheque especial caiu, mas foi no período da pandemia, quando o governo pagou o auxílio emergencial e o comércio fechado reduziu os gastos dos brasileiros. Naquele período, o endividamento como um todo diminuiu. Atualmente, o uso do cheque especial está 43% acima do fim de 2019, antes de o teto de juros entrar em vigor. E a inadimplência caiu de 17% para 12%. O BC não conduziu estudo semelhante para o cartão.
Não significa que juros mais baixos, voluntariamente ou por decisão política, resolveriam automaticamente o problema do cartão de crédito. Em 2012, o Itaú lançou um cartão chamado de 2.0, com uma taxa de juros de 5% ao mês, quando o mercado cobrava em média 12%.
A ideia era a seguinte: se o usuário desse cartão quitasse o valor da fatura, ele continuaria a funcionar da maneira tradicional, sem juros. Mas se o cliente entrasse no rotativo, todas as novas compras feitas no cartão passariam a ser sujeitas a juros até que o débito pedalado fosse pago. A modalidade foi extinta em 2020 sem nunca roubar espaço significativo no portfólio do banco. A maioria dos clientes tinha o cartão tradicional. O produto tampouco foi copiado por outras instituições, um sinal de baixa adesão à modalidade. Convidamos o banco a falar sobre o produto e as razões para deixar de vendê-lo, mas a instituição não quis comentar.
O lance é que o Itaú emulava o funcionamento do cartão de crédito nos Estados Unidos, o país que sempre surge como exemplo de uso saudável do instrumento – ao menos para os bancos.
Dois terços do saldo do cartão nos EUA está no rotativo. Quem atrasa uma fatura chega a levar dez meses para terminar de pagar o débito e ficar livre das taxas de juros sobre todas as compras. Só que a taxa média anual é de 25%, próximo de um crédito consignado no Brasil. A inadimplência é baixa: 2,77%.
Uma das propostas colocadas na mesa de negociação para o “novo cartão de crédito” é uma mistura daquele 2.0 com o fim do rotativo. A ideia aventada pelos bancos é: se o cliente tiver de parcelar sua fatura, ele não poderá dividir apenas o saldo devedor do mês. A proposta defendida pelos bancos exigiria que ele colocasse junto no pacote as compras parceladas que ainda não venceram, reempacotando todo o débito no cartão em uma nova dívida – agora sujeita a juros.
Na prática, isso elevaria o montante que os bancos conseguiriam monetizar do limite no cartão.
Não há um autor que assuma a paternidade da proposta. E a consequência seria um aumento nos juros sobre os consumidores que já pagam juros.
O sonho dos bancos brasileiros sempre foi que mais clientes usassem o rotativo. Quando o Nubank foi criado, uma das vantagens que ele vendia era oferecer juros de 2% ao mês para uma parte dos clientes. O plano era incentivá-los a usarem a linha de forma saudável, como um crédito normal. Procurado, o banco não quis comentar o assunto – hoje, a taxa média de juros da instituição no rotativo é de 13,06% ao ano.

Como desarmar a bomba
A Febraban nega que tenha essa intenção, mas, se a entidade pudesse, acabaria com o parcelamento sem juros. Não é força de expressão. O motivo principal é que não existe parcelamento sem juros. Se um lojista vende a prazo, ele tem um custo – e cobra por isso no valor do produto que vendeu.
Mas não é tão simples. Uma pesquisa Datafolha mostrou que apenas 56% dos lojistas de São Paulo oferecem algum desconto para pagamento à vista – em geral, 5%. Significa que em boa parte dos casos não compensa pagar à vista. Ponto. Nesse caso, você paga o juro embutido sem obter a vantagem do parcelamento. Sabe a lógica da meia-entrada, que faz com que a inteira custe o dobro? Então.
Se quisessem, os bancos poderiam, unilateralmente, bloquear ou criar regras mais duras para parcelamento “sem juros” – agora com aspas. A prova disso é que os bancos impõem custos mais altos para quem saca dinheiro no cartão ou usa o limite para pagar boletos.
Mas trata-se de uma medida impopular – e que só funcionaria se todos os emissores fizessem isso de forma coordenada. Afinal, você provavelmente iria para outro banco se o seu cartão não permitisse o parcelamento.
A outra medida que os bancos têm defendido é a criação de uma tarifa para o parcelamento sem juros. De forma prática, ela seria a taxa de juros que os bancos tanto desejam, mas com outro nome. E com o potencial efeito de diminuir o uso do parcelamento. Essa proposta tem o apoio do presidente do Banco Central.
Via de regra, as pessoas não olham tanto para o juro. O que importa é se valor da parcela cabe ou não no bolso. Agora pense no seguinte: se o desconto para pagamento à vista é de 5% e o custo médio para pagamento no cartão é de 2,34%, o juro de fato da coisa parcelada é de 2,66% por compra, independentemente da quantidade de parcelas.
Os bancos que oferecem o crediário do cartão, uma modalidade concorrente do parcelado sem juros, cobram bem mais do que isso: no mínimo 1,99% ao mês. Um parcelamento em duas vezes via banco é mais caro do que o parcelamento “sem juros” da loja.
O alto grau de dependência da economia no parcelado sem juros fala por si só: o brasileiro viciou-se na modalidade. A quantidade de pequenas prestações na fatura do cartão de crédito eleva o risco de descontrole financeiro e de inadimplência. Não por pura irresponsabilidade do consumidor.Os últimos anos foram marcados pelo uso do cartão de crédito para compras básicas, como o supermercado, em momentos de dificuldade. E foi nesse contexto que nunca os brasileiros receberam tanto crédito.
Qualquer mudança no cartão de crédito precisa lembrar como foi que chegamos a essa situação de descontrole. Não foi o consumidor quem inventou o dez vezes sem juros – e não deve ser ele quem deveria ser responsável por acabar com essa jabuticaba.